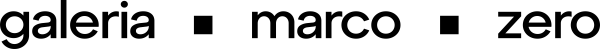Eu não enterrei meu umbigo aqui
Aqui, um só lugar, por onde olhos serpenteiam. Apesar das fronteiras, esse delírio geopolítico que repartiu o mundo. Apesar do aqui sucumbido a lugar reconhecido como direito. Pois ainda é preciso estabelecer pela lei, ou algo que o valha, o óbvio. Pensemos: se os povos são originários, assim também são suas cosmovisões e, portanto, também as suas terras. É preciso retrucar as instituições de poder que fundaram preceitos tão equivocados e que acreditam na eficiência de seus pilares racistas, colonialistas, patriarcais, genocidas, antidemocráticos e patrimonialistas. Apesar de todas estas sujeições sufocantes, povos permanecem, aterrando em e como um só lugar1. Sobrevivendo à invasão e à privação da terra, à cultura latifundiária, aos insaciáveis desmantelos extrativistas, às grilagens, às cercas (e não às secas, nem à caatinga, propagadas como brutalidades do Sertão, em oposição a uma ideia de civilização, desde tanto tempo).
Hostil, violenta e ingrata nos dizem os registros da máquina colonizadora sobre a paisagem do Sertão, enquanto tal compreensão também foi se responsabilizando pela confusão e interseções entre os termos “Nordeste”, “Semiárido”, “Caatinga” e “Sertão”(este mesmo intraduzível para a língua alemã, na ocasião de publicação do livro de Guimarães Rosa, em 1964). A inexatidão segue sendo atualizada, enquanto a estigmatização persiste: “de Minas pra cima é tudo Bahia”. A localização, cuja compreensão deve ser contemplada a partir de fatores geográficos, históricos, simbólicos, ambientais e sociais, é, frequentemente, atrelada a regionalismos caricatos, uma terra de ninguém, ali, onde funciona o almoxarifado das cidades que progridem – terra barata, mão-de-obra mais ainda. Afinal, quem nasce aqui, acredita-se, vive uma sina: “ou se sobe pra São Pedro ou se desce pra São Paulo”.
Os fluxos migratórios são processos constituidores do Brasil, que se perpetuam como cicatrizes que cortam a terra. Vale ressaltar alguns capítulos de uma trama complexa e violenta. As longas jornadas dos Guarani, desde muito antes da invasão dos colonizadores, em busca de Yvy marã e’? (a “Terra sem males”), lugar para onde transcendiam guerreiros, mas também acessível aos vivos que buscavam uma terra de felicidade e imortalidade. Com os embates entre indígenas e colonizadores, as jornadas dos Guarani tornaram-se uma espécie de ação de resistência, da qual se valiam para tentar retornar à terra onde estavam antes da invasão. E as calungas, travessias que se iniciavam em terras africanas com o sequestro de pessoas reduzidas à condição de escravizadas. “Calunga grande” também para muitos era o destino final, pois a chegada em terra firme era interrompida pela morte. De grande impacto, a migração em massa de “retirantes”, do interior para Fortaleza, ao longo da grande seca que afetou o Ceará entre os anos de 1877 e 1880, ocasionou conflitos sociais, que foram solucionados pelas autoridades por meio da concessão de passagens para o Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas, onde já haviam sido fundadas colônias agrícolas para garantir o abastecimento alimentar e a ocupação efetiva de áreas de fronteira, onde tentavam se esconder desertores e escravizados em fuga. Incontáveis episódios como esses foram apagados, amenizados pelo verniz do tempo da branquitude, e versam acerca de um território de êxodos, de travessias, de desterros forçados, de fugas e deslocamentos cujos destinos eram incertos. A escassez documental sobre essas histórias dolorosas, o descaso em se preservar as identidades das populações e a importância de suas presenças e ainda uma versão historiográfica etnocêntrica revolvem as profundezas de um Brasil que se disfarça. Nos cabe recontar, perscrutar, evidenciar. Nos sobra a dignidade de não recorrer ao “nosso antigo gosto por reconciliar o irreconciliável”2.
Assim, na mostra “Eu não enterrei meu umbigo aqui”, há uma forte intenção de conviver com os relatos e fabulações sobre os fluxos migratórios brasileiros. Diante da impossibilidade de abarcar a complexidade desse assunto, o primeiro gesto foi considerar que tais deslocamentos e suas tantas naturezas devem ser percebidos como uma questão que extrapola as fronteiras das regiões Nordeste e Norte. O delineamento restritivo desse contexto há muito vem circulando como verdade. Tal como um redesenho, é preciso abdicar dessa polarização, implicar aí um sujeito nós, amplo e coletivo, alinhado a um sério censo de contraste. Muito do que se diz moraliza uma culpa, encarnada nas gerações e gerações de quem migra, de quem larga a borda de seu sítio de origem. Os fluxos migratórios e as tantas diásporas orientaram, e ainda o fazem com crescente crueldade, processos civilizatórios do país. E foi às custas de muitas pessoas desterradas que o couro, a borracha, o ouro, a monocultura, a construção civil, apenas para citar algumas atividades, engendraram picos desenvolvimentistas e de enriquecimento das classes dominantes. Esse projeto de extermínio e exploração dissemina amarras, impossibilita a autonomia e produção de sustento próprio de trabalhadoras e trabalhadores, lima o labor coletivo e transforma povos originários e populações pretas e ribeirinhas (salvo raras exceções, como comunidades de resistência e aquilombamentos que se sustentam em parcerias, mutirões e com auxílios recíprocos) em meros locatórios de suas terras.
Da sabedoria Guarani e de seus cantos, quando crianças e mulheres entoam suas músicas, quem está a ouvir olha para quem canta e para o lugar onde está quem canta. Não há separação, não há dicotomia entre o ser cantante e o ambiente. E o que ali é cantado e ouvido vem da vida, do tempo experienciado, e, assim, como canto e como vida se espraia. “A caneta que meu pai deixou foi a roça e a banda”, disse ____, explicando a fonte de suas heranças para produzir uma arte secular e ancestral, como as músicas e danças da banda cabaçal Irmãos Aniceto. Sendo bicho como maribondo, camaleão, lagartixa e calango; com a terra, na lida com a enxada na roça; mesclando com os rituais espirituais; construindo os instrumentos, faz-se a festa – manifestação performativa que tem como textura as memórias ancestrais, uma ritualística profana e sagrada e uma compreensão que a resistência se faz na alegria. Da festa se espalham e se perpetuam ensinamentos, aprende-se a olhar, a falar do mundo e no mundo, a contar histórias. Aglutinar essas forças ancestrais, tentar conjugar gente e terra sem antagonismos, perceber as oralidades, a memória cultural, o “ensinamento oral da tradição”3. Tudo isso, neste projeto de exposição, fortalece o olhar que se lança diante dessa questão histórica e estruturante do Brasil.
Como segundo gesto: atentar-se ao fabular, ao tecer de histórias, ao balbuciar dos instantes que passaram, à subjetivação dos acontecidos, do ínfimo e talvez mais íntimo latejar de memória, ler o mundo sem os livros e sem a escritura historiográfica e oficial. Não estagnar em linearidades e exatidões cronológicas. Talvez assim uma fresta se abra para ouvirmos vozes, línguas e terras, cujas existências são frequentemente ignoradas, invisibilizadas, negligenciadas e das quais são provenientes relatos quase nunca considerados, pois, acerca dos acontecimentos dos quais participaram e testemunharam o horror, havia sempre uma autoria privilegiada, mais confiável e escolhida para narrar as vidas das massas.
Com esses gestos, apura-se a escuta, atentando-se ao que Leda Maria Martins4 diz que nos perpassa em outras vias que não as da escritura, mas em inscrições orais e corporais e que nas nossas vozes e peles se repete, se transmite, se transmuta. Assim, alguns nomes insurgem: Bárbara de Alencar, Maria de Dea, Iracema, Manoel Jacaré, Tatá, Jerônimo, Manuel Preto, Jaguaribara. Há alguns esforços em contar essas estórias. Muitos dados ainda nos escapam. Não é a exatidão que buscamos, mas uma presença protagonista na história. As vidas e acontecimentos que brotam dessas biografias e histórias são ignições que fundamentam a mostra que aqui se desenha, na Galeria Marco Zero.
Bárbara de Alencar, a Dona Bárbara do Crato, nasceu em 1760 na Cidade de Exu, na Capitania de Pernambuco. Especula-se que era filha de um rico fazendeiro e uma indígena Kariri e figurava como uma matriarca forte do Sertão. Em 1817, ao fim da missa, na festa de Santa Cruz, José Martiniano de Alencar (seu filho caçula) subiu ao altar e, depois de um inflamado discurso sobre a difícil realidade do Brasil colonial, incitou os fiéis, entre comerciantes e agricultores, a hastear a bandeira da República Independente do Crato que durou apenas 6 dias. A repressão aos rebeldes foi avassaladora. Bárbara e seus filhos foram presos e levados primeiro para Fortaleza.
Vestida apenas de saia e camisa, Bárbara Pereira de Alencar, a única mulher do grupo – identificada pelas autoridades como agitadora, revoltosa, liberal, conspiradora, conjurada –, segue quase em transe, vendo sem ver, ouvindo sem ouvir. No galope do animal e já sem forças, tanto pelos dias de viagem – um estirão de mais de 500 quilômetros da Vila do Crato a Fortaleza –, como pelo sol quente do verão de 1818, ela vem escarranchada, como os cavaleiros, mas traz as pernas livres, sem as pesadas correntes. Diante dela, a paisagem muda: poucas e solitárias palmeiras de carnaúba, o perfume das primeiras flores de cajueiro, os jatobás, as ramas de puçá, os pés de pequi, as pequenas plantações de cana-de-açúcar, de fumo, de mandioca. E, ficando para trás, a esplêndida visão da serra do Araripe. Depois, o cascalho a fazer barulho sob as patas do cavalo, cujo cabresto, por medida de precaução, é puxado por um soldado. É a caatinga do sertão. Para isso, para perceber as coisas da natureza, lhe servem os conhecimentos de botânica, (…).5
Conta a tradição oral que o comandante da guarda remexia com uma baioneta os alimentos destinados à Bárbara para verificar se não continham bilhetes, venenos ou armas e que ela teria ficado presa em uma prisão subterrânea em condições desumanas. De Fortaleza, foi transferida de prisão 4 vezes, para que não criasse laços em nenhuma das localidades. Após 4 anos, foi anistiada com a fama de traidora da pátria. Bárbara não tinha nenhum bem. E voltou a se envolver com política, tomando parte da Confederação do Equador, que, em 1824, foi também duramente reprimida. Depois de assistir à morte de dois de seus filhos, morreu em uma de suas tantas peregrinações, fugindo da perseguição política, em 1832 no Piauí. Bárbara de Alencar é considerada a primeira presa política mulher do Brasil.
Valente e transgressora, Maria de Dea morreu com a cabeça decepada, aos 28 anos, sem saber que um dia seria conhecida como Maria Bonita. A alcunha teria surgido antes do Massacre de Angicos, em Sergipe e, frequentemente, serve ao estereótipo para representar a mulher nordestina. Para além de toda a mística de coragem e insubmissão que ronda o imaginário sobre Maria de Dea, sabemos que ela, Dadá (companheira de Corisco) e tantas outras vivenciaram uma jornada de violências psicológicas e físicas e de inconstância. A fuga era uma condição de sobrevivência para quase todas. Marginalizadas, essas mulheres em fuga foram alvo da repressão policial por sua ligação com homens fora da lei. Assoladas pelo machismo, muitas perderam a vida de forma cruel pelas mãos de seus próprios companheiros, e outras foram executadas pela ordem pública, tiveram suas cabeças expostas como troféus e seus corpos profanados.
Iracema, a personagem principal de “Iracema, uma transa amazônica” (1974), filme de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, é uma menina de 15 anos que chega de barco com sua família em Belém, durante o Círio de Nazaré. Ela se desgarra da família e decide se prostituir para ganhar o mundo. Iracema vive intensas experiências com mulheres nas boates onde trabalha. A primeira delas lhe ensina sobre como sair do Pará e conta: “- Eu não aguento mais viver aqui. Eu quero sair daqui, andar. (…) Agora que eu vou pegar uma carona e chegar em São Paulo, eu vou. É só pegar a reta. (…) Ora, Iracema… Você pensa o que, Iracema? Você vai ficar plantada aqui? Eu não vou ficar aqui de jeito nenhum. Eu não enterrei meu umbigo aqui”. No docudrama, proibido de ser veiculado no Brasil até 1981 por suas imagens inéditas de destruição da Amazônia, Iracema segue sua saga e, com o caminhoneiro Tião, viaja pela Rodovia Transamazônica.
Em 1941, Jacaré, Jerônimo, Tatá e Manuel Preto saíram do Mucuripe, praia de Fortaleza, com um destino: exigir melhores condições de trabalho do então presidente Getúlio Vargas. Sem provisões, sem bússola, a jangada São Pedro enfrentou o mar e eles alcançaram o que queriam. E numa segunda travessia de coragem, voltaram ao Ceará. Nesta época, o cineasta estadunidense Orson Welles filmava imagens do carnaval no Brasil e entrou em contato com essa história de bravura e coragem. E convidou os jangadeiros para reencenar a travessia. De pronto aceite, os jangadeiros embarcaram nas filmagens realizadas no Rio de Janeiro. Até que Welles sugeriu a Jacaré que repetisse uma cena. Uma gigantesca onda os interpelou e Jacaré sumiu no mar. Filmagens interrompidas, filme abandonado. Anos depois, Welles foi ao Ceará e sugeriu aos jangadeiros do Mucuripe que realizassem um ritual simbólico em homenagem a Jacaré. Para documentar o ritual, Welles convidou o fotógrafo cearense Chico Albuquerque. E, assim, Seu Chico narrou em imagem: uma fila de jangadeiros com seus uniformes de lida cortando a paisagem de dunas e carregando em um andor vazio a dor da saudade do companheiro de mar.
Há mais de 20 anos, uma população habita a primeira cidade planejada do Ceará. Nova Jaguaribara ou “onde a onça bebe água” hospeda um trauma, um luto, um desterro. Realocados ou reassentados são os termos técnicos e, assim, os moradores da cidade, que tanto queriam permanecer no sítio natal, tentam sobreviver a esta mudança radical de cidade e às obras do açude Castanhão (maior açude do mundo construído em uma região semiárida, com capacidade de 6,7 bilhões de metros cúbicos de água), já que suas águas, que um dia foram a promessa para solucionar o abastecimento hídrico do estado do Ceará, atualmente, quase inexistentes, exibem as ruínas de Jaguaribara, destruída para que os habitantes a deixassem. Instalado às margens do Rio Jaguaribe, próximo ao centro de Jaguaribara, o projeto invadiu 2/3 da cidade, assim como ocorreu com Petrolândia, em Pernambuco, inundada pelas águas da barragem de Itaparica – Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, na década de 1980, e Canudos, na Bahia, inundada pelo açude Cocorobó, em 1969. Acerca dessas obras faraônicas de combate à seca, lembremos:
O espaço Nordeste é, portanto, inventado como uma arma cartograficamente sobreposta e em combate contra o bioma do semiárido; depois do Nordeste, o sertão, lugar condenado por sua indocilidade, se torna, pelo combate à terra, passível de salvação. Essa operação teológico-política de salvação do Nordeste – isto é, de desterro do sertão – inclui as mesmas armas clássicas da colonização (concentração de terra, pecuária extensiva, exploração do trabalho), melhoradas com as últimas tecnologias de desenvolvimento sustentável: barragens, transposição de bacias hidrográficas, agroindustrialização, mineração, instalação de torres de energia eólica em terras de pequenos posseiros, entrega de terras públicas para empresas de produção de sementes transgênicas, envenenamento e salinização do solo e dos frágeis cursos d’água6.
Um emaranhado de histórias, de temporalidades, de gentes e de travessias nos versam sobre o ir e o seguir, sobre permanecer e resistir, sobre quando aterrar e interromper a migração são, em suas diferenças, gestos que problematizam o desterro. Essas personagens subjetivam a historiografia oficial e propõem tramas acerca das diásporas do solo brasileiro, apontam as implicações e o que geraram (e geram) política, social e culturalmente. Em comum, essas pessoas e suas histórias são marcadas pelo desejo de sair pelo mundo, pela fuga para sobreviver, pelo despejo, por uma viagem que acontece por resistência ou pela dor e trauma gerados pelo desterro forçado. A elas, como projeto expositivo, juntam-se trabalhos de Aislan Pankararu, André Vargas, Antonia Nayane, Bozó Bacamarte, Bruno Faria, Carmela Gross, Cícero Dias, Clara Moreira, Chico Albuquerque, Cristiano Lenhardt, Davi de Jesus do Nascimento, Edgar Kanaykõ Xakriabá, Elilson, Fernanda Porto, Fred Jordão, Guga Szabzon, Gustavo Caboco e Lucilene Wapichana, Ianah Maia, Janaina Wagner, Júlia Pontés, Juraci Dórea, Letícia Parente, Maria das Dores Cândido Monteiro, Maria do Socorro Cândido Monteiro, Maria Macedo, Marlene Costa de Almeida, Mestre Neguinha e Nanai, Rafael RG, Rubiane Maia, Tiago Sant’anna, Tereza Costa Rêgo e Vitor Cesar.
Em suas singularidades e pontes, cada artista apresenta, com reflexões, questionamentos, fabulações, proposições mais aguerridas, instrumentais discursivos e poéticos, contornos sensíveis que ampliam e problematizam os muitos territórios que habitamos. E os trabalhos ocorrem, organizados em 3 núcleos conceituais: “A terra puxa”, “A vida é assim mesmo, eu fui embora”, “Viagem boa, Riobaldo. E boa-sorte… Despedir dá febre”. Nesses núcleos, não há separações, mas sobreposições, recorrências e diálogos férteis. “A terra puxa” é um trecho de uma conversa com Gustavo Caboco, quando ele contava sobre porque se vai e porque se volta. Assim, nesse núcleo os trabalhos enfatizam a terra como lugar de pertencimento, como agente ativo do ficar e do ir. “A vida é assim mesmo, eu fui embora” é um trecho apropriado da canção de Torquato Neto e aqui sentido na voz de Gal Costa. Os trabalhos que dialogam com esta despedida falam de uma terra que se perde de vista, mas não sai da caixa torácica e nem no modo como se olha para o mundo. Ir não é largar-se, mas, quem sabe, expandir-se e expandir o sítio de origem. “Viagem boa, Riobaldo. E boa-sorte… Despedir dá febre”, trecho de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães, nos rememora a dor febril quando Riobaldo se despede de Diadorim. Os trabalhos que aqui encontram solo versam sobre o desterro forçado, sobre o trauma de não poder escolher em permanecer, sobre o oco no peito que é deixar a terra e partir sem destino. Os mais de 60 trabalhos da mostra alinhavam-se também às vivências das artistas e dos artistas. A muitos modos, a arte, como instância e manifestação do existir, impregna-se, ou melhor, ocorre emaranhando-se nas biografias dessxs artistas, que, assim, gestam suas inscrições que modificam a paisagem do pensamento e recriam os territórios sobre os quais ousam dizer algo.
O título da mostra é um trecho de um diálogo entre a personagem Iracema e sua companheira de boate. As duas debatem sobre o ir embora e tomar o mundo. A frase ‘“Eu não enterrei meu umbigo aqui” torna-se um aforismo místico, ou seja, ali, naquele lugar, ela não morreria. E Iracema toma isso como destino e tarefa. Seu sentido também ganha outros contornos no contexto da mostra: uma relação do corpo com o lugar em que se está, com o lugar de origem, evidencia-se e demonstra-se, então, como um vínculo inquebrantável. Com esse diverso contexto de linguagens, origens e gerações de artistas, a mostra pretende alavancar algumas perguntas, tais como: do que estamos falando quando miramos o Nordeste? O Sertão? O Semiárido? Como lidar com os fluxos migratórios, a partir de uma retomada histórica, social, cultural, simbólica, afetiva? De que maneira essa questão nos revolve como coletividade? Que alinhavos tecemos quando pensamos em desterros, migrações e exercícios de permanência? E a terra? É possível agir com a terra para que a terra se revele a nós e, assim, nos possa refaça?
Que seja um exercício de movência “em busca de ti”, “em busca de mim”, “ao vento”, “sertão a dentro”, ou ao “som dos nossos passos que se imbricam”, “magiando margeando margirando / maginando / marejando”, seguindo na trilha das páginas 1, 33 e 51 de Cida Pedrosa.
Galciani Neves
(janeiro/2023)
1 Segundo Ailton Krenak, no Brasil, há muitos povos indígenas e são inúmeras e distintas as suas cosmogonias e cosmologias. Mas entre todas há algo em comum: a Terra é um organismo vivo, uma grande canoa que nos leva juntos ao longo de um rio. E os lugares de origem conformam um só lugar. A Terra é um só lugar. E nós habitamos um mesmo cosmo e somos ao mesmo tempo cosmo.
2 Fabiana Moraes, A anistia nos trouxe até a barbárie do terrorismo em Brasília, 2023. Disponível em https://theintercept.com/2023/01/10/anistia-nos-trouxe-ate-barbarie-do-terrorismo-em-brasilia/
3 Kaká Werá Jecupé, A terra dos mil povos, 2020.
4 Leda Maria Martins, Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela, 2021.
5 Ariadne Araújo, Bárbara de Alencar, 2017.
6 Rondinelly Gomes Medeiros, Mundo quase-árido, 2014.